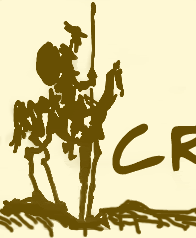


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
sexta-feira, maio 22, 2009
Crônica antiga:
MEUS DOIS TURCOS
(29/6/2001)
Em meus vinte e poucos anos, eu julgava que o bem-estar europeu era fruto de trabalho exclusivo dos europeus. Em Estocolmo, quando meus professores de sueco me perguntaram em que diska eu trabalhava, achei que havia um mal-entendido. Tinha eu cara de diskare (lavador de pratos)? Já nas primeiras semanas de Suécia, entendi que era visto não como um jornalista que estava lá para observar a vida no paraíso, e sim como mão-de-obra potencial. Observei meus colegas de curso: polacos, gregos, iugoslavos, turcos, árabes. Todos estavam ali tentando adquirir um conhecimento mínimo do idioma ... para trabalhar. Quanto a mim, que buscava apenas conhecer um idioma e um país novo, me sentia peixe fora d'água naquelas aulas. Quando descobri que dificilmente teria chances de trabalhar em minha área, fiz minhas malas... e voltei.
Quando alguém me fala que mobilidade social não existe no Brasil, costumo puxar da memória dois turcos de minha infância. Aconteceu há mais de quarenta anos, quando eu ainda vivia nos campos de Upamaruty. Eles chegaram de Dom Pedrito, cidade que eu ainda não conhecia, aliás não conhecia cidade nenhuma. Vinham em duas precárias bicicletas, enfrentando estradas de areia e barro, os porta-cargas repletos de espelhos, pentes, isqueiros, carretéis, agulhas, alfinetes, baralhos. Uma orgia de consumo para aqueles camponeses, separados da cidade por léguas de solidão. As mulheres da região recebiam os turcos com festa, eram as coisas da cidade que chegavam até seus modestos desejos. Ainda piá, eu os observava com espanto. Entre si, usavam uma algaravia incompreensível. Conosco, falavam com sotaque carregado. Hospitalidade oblige, sempre encontravam pernoite e comida em nosso rancho. À noite, me ensinavam, com o auxílio de grãos de feijão e milho, mistérios da matemática. Se mal se conseguiam fazer entender com palavras, eram exímios nesta linguagem universal, a dos números.
Os dois turcos voltaram muitas vezes em suas bicicletas àqueles pagos inóspitos. Até o dia em que chegaram de jipe, desta vez com tecidos, colchas, cobertores, toalhas e utensílios de cozinha, uma orgia aos olhos do mulherio lá da campanha. Voltaram muitas outras vezes, até o dia em que não voltaram mais. Quando fui conhecer cidade, encontrei-os em Dom Pedrito. Descobri então que sequer eram turcos, mas sírios. Tinham uma loja de tecidos, com três ou quatro funcionários. Quando abandonei a cidade, já tinham duas lojas e o dobro de funcionários. Bem mais tarde, quando me dei conta do que significava ser sírio, meus dois turcos me voltaram à lembrança. Haja pertinácia para sair de longínquos desertos das Arábias, atravessar um oceano, viver em país novo, outra língua, cultura distinta, e enfrentá-lo com duas bicicletas e algumas bugigangas de mascate no cargueiro.
Nasci entre gente pobre, que trabalhava na lavoura de sol a sol, fazendo uma agricultura de mão pra boca. Não tenho notícias de que alguém tenha prosperado como os dois "turcos" de minha infância. Claro que nenhum brasileiro de cepa se disporia a sair pedalando pampa afora, como os sírios, para juntar algum pecúlio de centavo em centavo.
Na Suécia, reencontrei os turcos — estes turcos de verdade — mais árabes, eslavos e mesmo latinos, encarregando-se do trabalho pesado ou sujo, que os hiperbóreos Svensons não se dignavam a enfrentar. Fui reencontrá-los mais tarde em Paris, nas mesmas tarefas. Certa noite, voltando para o Grand Hotel Saint Michel, aquele conhecido hotelzinho da folclórica madame Salvage, que abrigou brasileiros e latinos durante décadas e de grand só tinha o nome, tive surpresa insólita. Pedi minha chave ao porteiro da noite. Do catre instalado na portaria ergueu-se uma calva ilustre, inconfundível, a solene calva de um de meus professores de filosofia em Porto Alegre. Para ele, naquele momento, era melhor ser porteiro de hotel em Paris que catedrático no Brasil.
Destas andanças, algo aprendi sobre eles: imigrantes não se enganam. Só rumam rumo ao melhor. Um árabe que quebra pedras ou junta lixo em Berlim ou Estocolmo, vive evidentemente melhor que em sua villaya na Argélia. E ainda manda algum dinheiro aos que ficaram no deserto. Na época em que Giscard d'Estaing ofereceu passagem e mais dez mil francos aos migrantes que quisessem voltar a seus países, Slimane, um amigo argelino, me dizia: "Não volto. Podem me dar a França inteira. Não posso levá-la no bolso".
Imigrantes são seres diferenciados. Ousam deixar para trás pátria, família, passado, em busca de um futuro melhor. Nestes dias que correm, há pessoas morrendo no mar ou sufocadas em furgões, tentando entrar clandestinamente na Europa, via Itália, Espanha ou Inglaterra. Mas não vemos hoje — nem vimos em dias passados — alguém arriscando a vida para entrar em Angola, Cuba, Congo ou países da finada União Soviética.
O Brasil pode ser pesado de carregar-se às costas. Pessoalmente, nunca encontrei motivos para orgulhar-me deste país. Mas horrível também não é. Estes seres que não se enganam, os imigrantes, vêm para cá de todos os continentes, e inclusive do nosso. Isto atesta que o país é viável. Os italianos e alemães que um dia chegaram de mãos abanando no Brasil, construíram as cidades mais prósperas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Japoneses e coreanos que aportam nesta São Paulo vão muito bem. O mesmo diga-se de árabes e judeus.
Você conhece nome e sobrenome de algum mendigo? Eu não. Deles só tomo conhecimento nos meses de inverno, quando repórteres saem a entrevistar moradores de ruas. Só tenho lido sobrenomes como Vieira, Soares, Santos, Silva, Silveira e por aí afora. Jamais ouvi falar de algum mendigo chamado Isaac ou Jacó, Abdul ou Tanako, Gert ou Salvatore.
Assim, quando intelectuais de classe média afirmam que este nosso sistema capitalista — que aliás nem chegou ao capitalismo — não dá chances a ninguém, costumo evocar meus dois turcos. Trabalhando, dá. Estendendo a mão para pedir, não dá.
![]()
